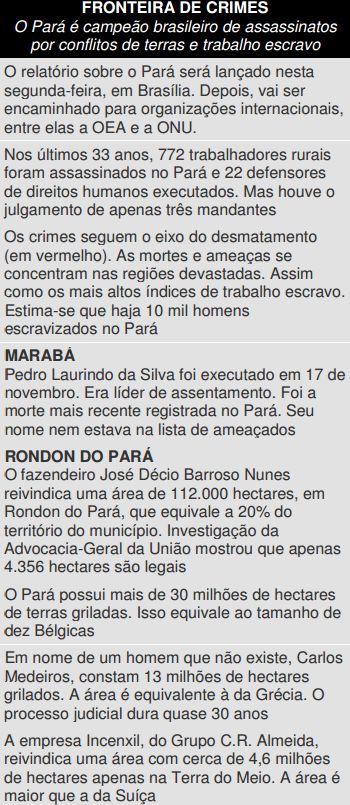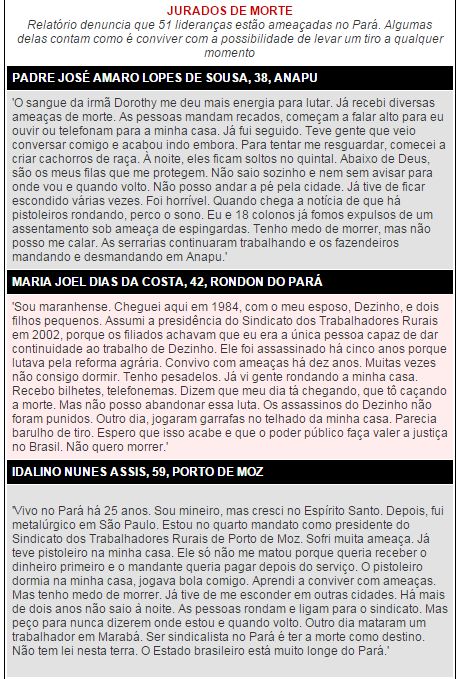Promover saúde não é sufocar a dor da vida com drogas legais
Parte da minha família tem origem rural e lá está até hoje. Na roda de conversas, chimarrão girando de mão em mão, os tios com um cigarro de palha pendurado no canto da boca, ficava encasquetada com um comentário recorrente. Toda prosa começava com o preço da soja ou do trigo, evoluía para a fúria da geada do inverno daquele ano, quicava por quanto fulano e beltrano estavam plantando e, por fim, chegava ao ponto que me interessava.
Eu era um toco de gente, mas sentada num banquinho ao pé dos adultos e do fogão à lenha, não havia nada que me arrancasse dali. Depois desses assuntos chatérrimos, que eu suportava com brios de filósofo estóico, finalmente minhas tias começavam a atualizar meus pais sobre as fofocas locais. Invariavelmente havia alguém que tinha descarrilado. Vinha então a voz meio sussurrada, em tom de sentença: “fulana sofre dos nervos”.
Pronto, estava tudo explicado. Menos para mim. Eu não entendia o que eram os tais dos nervos. Só sabia que eles eram os culpados por alterar a ordem daquele pequeno mundo rural. Depois de “atacadas dos nervos”, pessoas até então trabalhadeiras, de repente, não achavam mais que acordar às 4h da madrugada para tirar leite de vaca e plantar soja era a vida que tinham pedido a Deus. Mulheres sensatas largavam as panelas e os filhos ao vento e recusavam-se a juntar o marido bêbado na bodega do povoado. Rebelavam-se. Por culpa dos nervos.
Eu criava ouvidos de Dumbo – não para voar, mas para ficar plantada bem ali, ouvindo até o zum-zum das varejeiras tentando alcançar as bolachas de confeito branco, paridas na cozinha das tias para as visitas do domingo. Só raramente alguém notava meus olhos de bolinha de gude e fazia sinal para mudar de assunto. Naquelas noites, eu nem dormia. Parte por causa dos borrachudos que tinham esfolado a minha pele. Parte por causa do mistério dos ataques de nervos. Será que eu também tenho nervos?, matutava. De manhã, perguntava a um e outro, mas ninguém dava uma explicação convincente. Nervos eram nervos e pronto. E não eram assunto de criança.
Cresci, apalpei outras geografias, mas revisito aquele mundo rural sempre que possível. Nas minhas recentes passagens por lá, descobri que os nervos desapareceram. Não há mais nervos em parte alguma. Agora há depressivos e vítimas de pânico. E, em vez de ataques de nervos, as pessoas têm crises de ansiedade. Antes, o contra-ataque se dava por um arsenal de chás e ervas de nomes estranhos. Mesmo na cidade, não tinha nada que o finado Chico não tratasse com alguma beberagem de cor estranha. Minha teoria pessoal é que não existia vírus ou bactéria ou até mesmo nervos capaz de suportar o cheiro daqueles troços. Mas o velho Chico morreu, não sei dizer se antes ou depois dos nervos. E agora tudo é tratado com comprimidos de cores variadas.
Quando comecei minha aventura de repórter, no final dos anos 80, ainda encontrava referência aos nervos por onde andasse, fosse em zonas rurais de norte a sul, fosse na periferia das grandes cidades. Com o tempo, especialmente a partir dos anos 90, as mesmas queixas começavam a ser embaladas em termos médicos. Nos últimos anos, tenho ficado embasbacada ao entrevistar gente analfabeta que fala em depressão como se fosse o nome de alguém da família. A terminologia médica invadiu a linguagem em todas as classes sociais e regiões – e se inscreveu na cultura.
Há algum tempo penso nos muitos significados dessa enorme mudança. Significa que as pessoas estão sendo mais bem tratadas e tendo acesso a medicamentos? Talvez. Mas não me parece que seja isso. Ou pelo menos apenas isso. Estou preocupada com o que tenho testemunhado pelas periferias do Brasil. Antes, quando batia na casa das pessoas mais humildes, os pais de família me apresentavam sua carteira de trabalho. Isso sempre me devastou, porque revelava a violência silenciosa que vitimava os mais pobres. Com o gesto, eles queriam provar que eram trabalhadores, gente de bem – e não vagabundos ou bandidos porque eram pobres. Eu tentava explicar que não era autoridade nem tinha direito algum de ver seus documentos. Mas o homem diante de mim, estendendo a carteira de trabalho, carregava na alma séculos de humilhação. Então, eu examinava e elogiava seu documento.
Hoje, quase não acontece mais. De uns tempos para cá, o que muita gente tem me mostrado são, adivinhem: “seus” medicamentos. Com um sentido diverso. Acreditam que, por ser jornalista, tenho um conhecimento que eles não têm, sou capaz de esclarecer suas dúvidas. Estou lá, sentada no único sofá ou na melhor cadeira da casa, quando acontece. Depois da prosa inicial, que no meu caso leva umas duas horas, já estamos todos bem à vontade. Então o pai ou a mãe ou a avó fazem sinal para a menina mais nova. E lá vem a criança carregando uma lata da cozinha. Deposita entre as minhas mãos, como uma hóstia. Olho e já sei o que vou encontrar: cartelas de comprimidos até a boca.
Querem saber se faz bem mesmo. Se posso explicar como devem tomar. Se acho que o guri que só apronta na escola deveria tomar também. Me arrepio. Examino o conteúdo. Procuro as bulas. Boa parte são antidepressivos e tranquilizantes. Pergunto quem toma e por que toma. O avô porque não dorme, a mãe e a avó porque estão deprimidas, o pai porque é nervoso e o filho porque é “muito agitado”. Com variações, claro. Mas em geral as deprimidas são as mulheres. Lembro que eram elas também as que mais sofriam dos nervos. Não que os homens não sofram, mas sinto que resistem mais antes de assumir publicamente que são “deprimidos”. Em geral eles não dormem ou são “nervosos”. Muitas vezes, os pais bebem álcool, os filhos são usuários de drogas.
Com delicadeza, explico que não sou médica, que precisam procurar o posto de saúde. Respondem que a próxima consulta é só daqui a três meses. Descubro então que trocam de medicamentos. Quando acham que o seu não está resolvendo, tentam o do outro. Consciente da minha ignorância, afirmo apenas o que posso afirmar: não tomem o medicamento que é do outro nem dêem para as crianças. Semanas atrás uma mulher me perguntou se podia dar um tranquilizante para a sua sobrinha, de 9 anos, que estava muito agitada. Eu disse que de jeito nenhum, “é muito forte”. Minutos depois, veio me contar com um sorriso. Tinha encontrado uma solução: “Dei só a metade”.
A medicalização da dor de existir não é nenhuma novidade. Antidepressivos e tranquilizantes estão disseminados em todas as classes sociais. Para boa parte das pessoas tomar uma pílula para conseguir “aguentar a pressão” é tão trivial quanto tomar um cafezinho. Mas penso que, se você é de classe média, tem mais acesso à informação, à terapia, a um tratamento mais competente. Tem mais acesso à escuta da sua dor.
É importante fazer a ressalva. Não sou contra antidepressivos e tranquilizantes. Nem tenho autoridade para ser. Acho que medicamentos têm sua hora e seu lugar. Mas não é preciso ser médico para saber que, em geral, seu uso deve ser temporário, monitorado e acompanhado por outros recursos. Como psicoterapia e análise, em muitos casos. Ou seja, devem ser usados com muita parcimônia, critério e acompanhamento. E não como se fossem pílulas de açúcar, que podem ser tomadas por todos a qualquer sinal de dor psíquica.
O que tenho visto é um doping social. Combate-se a maconha, o crack, até o cigarro, ótimo. Mas e as drogas médicas que estão pelos barracos e pelos palácios? São menos drogas porque dadas por um doutor?
Minha percepção é de quem anda bastante por aí. Por ser repórter, tenho o privilégio de entrar por várias portas, escutar a narrativa de muitas e diferentes vidas. Para escrever este texto conversei com psiquiatras, psicólogos e psicanalistas que trabalham na rede pública de saúde. Queria ir além do meu testemunho. Seus relatos são mais assustadores que o meu.
“Basta chorar”, afirma uma psiquiatra muito conceituada. “Há poucos psiquiatras na rede pública, em qualquer parte do país. Em geral, as pessoas vão ao médico por algum outro motivo. Então choram. E o médico, seja qual for a sua especialidade, receita um antidepressivo ou um benzodiazepínico (tranquilizantes – ansiolíticos e hipnóticos). Meses depois a pessoa volta. E continua chorando. Aí ganha um mais forte. Ou ganha dois. E ela continua chorando. Mas tudo o que ouve é que é doente e tudo o que lhe dão são remédios. Só que ela continua chorando.”.
“As pessoas são levadas a acreditar que o remédio pode acabar com a sua dor, uma dor que tem causas muito concretas. Não resolve, claro. Um exemplo. Uma mulher tinha dois empregos, um de dia, outro de noite. O que ganhava não dava para pagar as contas. Os ônibus que pegava para chegar até esses empregos eram lotados. Ela vivia num barraco. Aí procurou o posto de saúde e lhe trataram com antidepressivos. Não adiantou. Deram-lhe outro medicamento. Nada. Um dia, sem nenhuma esperança ou recurso, ela tentou suicídio”, conta uma psicóloga. “A questão é que não há promoção de saúde, porque isso implicaria se preocupar com projeto de vida, com perspectiva de vida, com melhoria das condições de vida. O que há é medicalização da vida. Vemos o tempo todo gente que foi viciada em ansiolíticos nos postos de saúde.”.
“A gente vê um monte de gente sofrendo. E sofrendo muito. Mas o atendimento funciona assim: está chorando?, toma um antidepressivo; não dorme?, pega um benzodiazepínico. É uma supermedicalização sem critério. As pessoas estão tomando remédios como se fossem bolinhos”, afirma um psiquiatra. “Vivemos uma época de sedativo social. O médico não tem tempo de escutar, dá um remédio para que parem de chorar ou reclamar, e as pessoas vivem a fantasia de que são atendidas. Não funciona, claro. Elas continuam sofrendo. Então voltam e o procedimento se repete. E assim vai diminuindo a pressão social.”.
Vale a pena parar e refletir. Nossa época está produzindo gerações de anestesiados? A medicalização da dor psíquica é um fenômeno relativamente recente. Pelo menos nesta proporção, com essa enorme variedade de medicamentos disponíveis e muito mais sendo produzido em escala industrial e vendido em licitações para a rede pública em suas variadas instâncias. Cada comprimido de diazepam (benzodiazepínico), por exemplo, custa menos de um centavo para a rede pública. Bem mais barato, digamos, que uma sessão de psicoterapia.
Se pensarmos que a medicação da população com antidepressivos e tranquilizantes se acentuou a partir dos anos 90, que tipo de sociedade teremos daqui, digamos, uma ou duas décadas? O que acontece com as pessoas quando têm a sua dor de existir abafada, mascarada, calada a golpes de pílulas? Não sei. Mas acredito que são perguntas que devemos nos fazer. Nós todos, não apenas os governantes ou os profissionais da saúde. Estamos vivendo uma mudança cultural das mais profundas. E não me parece que estamos suficientemente atentos a suas causas, significados e implicações. Que tipo de mundo e de gente estamos criando quando a resposta para toda dor é uma pílula?
De novo, não sou contra o uso responsável de medicamentos. E me sinto bastante satisfeita por viver numa época em que é possível curar – ou pelo menos controlar – muitas doenças graças ao avanço da ciência. Mas não é disso que se trata. O que tenho testemunhado não é tratamento – mas doping. E do pior tipo, o legalizado, aquele que é travestido como promoção de saúde e promovido pelo Estado, sob a pressão da indústria farmacêutica. E, atenção: cada vez mais cedo. Em todas as classes sociais, as crianças começam a ser medicadas nos primeiros anos de vida, bastando para isso não ter um comportamento na escola considerado “normal”.
Na passagem do tempo, descobri que também eu tinha os tais dos nervos. Desde criança, convivo com as muitas dores de existir. Como quase todo mundo. Às vezes “a vida dói como uma afta”. Mas nem sempre – talvez até raramente – seja caso de antidepressivo. Assim como nossas palpitações de ansiedade nem sempre são patologias ou as noites de insônia são doença. Sentimos tristeza, melancolia, medos, lutos. Tanto pela perda de quem amamos como pela perda de amantes como pelas pequenas perdas de cada dia.
A dor é parte da vida. O fascinante na espécie humana é que conseguimos transformar dor em criação. Elaboramos nossas muitas dores criando poesia, pintura, escultura, música, vestidos, bordados, artesanato, culinária, cinema, móveis, teatro, ciência, histórias. Cada um a sua maneira. Se em vez de elaborar a dor e transformá-la em expressão, tomamos comprimidos que conseguem apenas nos embotar por um tempo, o que estamos fazendo conosco e com o nosso mundo?
Se você pega seis ônibus lotados por dia, trabalha 15 horas, é humilhado pelo seu chefe, mora num barraco e não tem dinheiro para pagar as contas, você está deprimido porque não tem mais forças para suportar esse cotidiano ou está doente porque não consegue dormir? Não. Não é preciso ser médico para saber que ninguém pode estar bem em condições de vida como essas. Sua alternativa não é se entupir de tarja-pretas, mas criar um jeito de lutar por uma vida melhor, pressionar o poder público, criar uma associação comunitária para exigir seus direitos, construir um projeto de vida com aquilo que é possível e brigar por aquilo que precisa se tornar possível.
Ser ativo e ser parte é ter saúde. Não há nada mais doentio e aniquilador do que o sentimento de impotência. E, quando a questão é esta, tomar remédios como se sua dor não fosse legítima, não tivesse causas reais que precisam ser escutadas e transformadas, é acentuar o abismo da impotência. É o contrário de saúde. Por isso, fico muito preocupada quando entro nas casas e os moradores me mostram suas pílulas.
Tenho o privilégio de acompanhar o movimento literário das periferias do Brasil. Em especial, o sarau da Cooperifa, na zona sul de São Paulo. Das mais diversas regiões da Grande São Paulo, toda noite de quarta-feira, centenas de pessoas, a maioria delas pobres, alcançam o bar do Zé Batidão para ouvir e fazer poesia. Sérgio Vaz, o criador da Cooperifa, pode passar horas contando sobre gente que chegou lá aniquilada, com a espinha quebrada, a vida por um triz. E, ao ser escutada, sentir-se parte, transformou a sua vida. Gostaria que alguém fizesse uma pesquisa de saúde mental entre grupos que pertencem a saraus de poesia, rodas de samba, posses de hip-hop, oficinas de arte, associações comunitárias e a população que não pertence a nada, nem a si mesma.
Penso que o conceito de saúde – e de saúde mental – não existe se não abarcar projeto de vida.
O primeiro texto que escrevi, aos 9 anos, foi inspirado pela abissal melancolia de um domingo de manhã em que eu estava sozinha enquanto todos em casa dormiam. Era escrever ou a melancolia me engolir. Aos 11 anos, eu já tinha um livro de poesias. Todas elas elaboravam momentos diversos da minha dor de existir. Para mim, a escrita foi a maneira que encontrei de elaborar a minha angústia, “os meus nervos”. Acabei fazendo disso um projeto de vida.
Já vivi muitos momentos duros, inúmeros traumas. Posso afirmar, sem exagero, que fui vítima da maioria dos artigos do Código Penal, com exceção de assassinato. Estive algumas vezes à beira do precipício. E por duas vezes na minha vida precisei de medicamentos. Tive a sorte de encontrar profissionais competentes, humanistas, que acreditavam no que faziam, no que eram. O uso de medicamentos foi pontual, parcimonioso, controlado e com tempo para acabar. Sempre acompanhado por sessões de psicanálise. Superei cada um deles não me anestesiando, mas elaborando a dor. E criando furiosamente.
Tudo o que vivi uso para escrever. E tudo o que vivi me ensinou a escutar. Quando entro na casa das pessoas como repórter e elas me mostram seus medicamentos, o que esperam de mim é que as escute. E é o que talvez eu faça de melhor. Fico horas em suas casas, apenas ouvindo. Escutando de verdade. A narrativa da vida é um reconhecimento da vida. A escuta da dor é um reconhecimento da dor. Se alguém que sofre procura um médico e, em vez de escutá-lo, ele o entope de comprimidos, o que aconteceu ali não é promoção de saúde, é promoção de doença. E o médico que se sujeita a isso pode estar tão doente quando aquele que o procura. O sistema de saúde não pode funcionar como um reprodutor de impotências. Uma linha de produção de impotências, que em vez de apertar parafusos, coloca bolinhas na boca. Como sabemos por pesquisas, é significativo o número de médicos que não apenas dopa, mas também se dopa.
Promover saúde é promover vida. E a vida começa pela escuta da vida. É o que faço como contadora de histórias reais. Mas quando as pessoas me mostram uma lata de comprimidos, que todos tomam, da criança mais nova ao avô, não é de mim que elas precisam. Para não me sentir impotente, escrevo este texto. Na esperança de que alguém me escute.
(Publicado na Revista Época em 31/08/2009)

 ‘Posso ser assassinada a qualquer momento. Quando eu abro uma porta, já espero receber um tiro. Tem gente que diz que sabe como é viver jurado de morte. Mas não sabe. Estar marcada para morrer é viver sem sonho, é só ter momento. É não ter mais casa nem paradeiro, é não ser mais ninguém. É dizer para quem anda contigo que é para não andar mais porque vai morrer. É marcar os amigos de morte também e depois se sentir culpada. É uma sensação tão ruim. Parece que as luzes vão se apagando, que o mundo vai ficando escuro. Nem sinto mais saudade da vida porque não acho bonito nada. É bonito, mas eu é que não acho bonito. Tenho pavor da noite desde pequena. E agora, que virei uma fugitiva, tenho de andar no escuro, pelo meio do mato. Quando durmo, só sonho com defunto. Decidi uma coisa. Quando a máfia de Castelo de Sonhos me pegar, sei que vão me torturar. Mas eu vou fazer o possível e o impossível para não gritar. E não vou pedir misericórdia. Falam aqui que eu já estou morta, só falta cair. É isso. Ser jurada de morte é começar a ser assassinada ainda na vida.’
‘Posso ser assassinada a qualquer momento. Quando eu abro uma porta, já espero receber um tiro. Tem gente que diz que sabe como é viver jurado de morte. Mas não sabe. Estar marcada para morrer é viver sem sonho, é só ter momento. É não ter mais casa nem paradeiro, é não ser mais ninguém. É dizer para quem anda contigo que é para não andar mais porque vai morrer. É marcar os amigos de morte também e depois se sentir culpada. É uma sensação tão ruim. Parece que as luzes vão se apagando, que o mundo vai ficando escuro. Nem sinto mais saudade da vida porque não acho bonito nada. É bonito, mas eu é que não acho bonito. Tenho pavor da noite desde pequena. E agora, que virei uma fugitiva, tenho de andar no escuro, pelo meio do mato. Quando durmo, só sonho com defunto. Decidi uma coisa. Quando a máfia de Castelo de Sonhos me pegar, sei que vão me torturar. Mas eu vou fazer o possível e o impossível para não gritar. E não vou pedir misericórdia. Falam aqui que eu já estou morta, só falta cair. É isso. Ser jurada de morte é começar a ser assassinada ainda na vida.’

 Aos 70 anos, Leo Reck (foto), o fundador de Castelo de Sonhos, vive hoje a segunda fase da colonização do lugarejo aonde chegou em 1975. A convite, como diz, do governo militar, que o exortou a ‘integrar para não entregar’. Leo Reck precisa limpar a biografia para que no futuro, quando o distrito virar cidade, possa ter um busto na praça e uma história bonita para as crianças recitarem na escola em dias cívicos. A guerra entre Onça Branca, como era conhecido, e Rambo do Pará ficou para trás. ‘Cansei de recolher os corpos que Rambo deixava para enterrar. Larguei para os urubus’, conta. ‘Eu nunca matei ninguém e posso andar de cabeça erguida.’
Aos 70 anos, Leo Reck (foto), o fundador de Castelo de Sonhos, vive hoje a segunda fase da colonização do lugarejo aonde chegou em 1975. A convite, como diz, do governo militar, que o exortou a ‘integrar para não entregar’. Leo Reck precisa limpar a biografia para que no futuro, quando o distrito virar cidade, possa ter um busto na praça e uma história bonita para as crianças recitarem na escola em dias cívicos. A guerra entre Onça Branca, como era conhecido, e Rambo do Pará ficou para trás. ‘Cansei de recolher os corpos que Rambo deixava para enterrar. Larguei para os urubus’, conta. ‘Eu nunca matei ninguém e posso andar de cabeça erguida.’